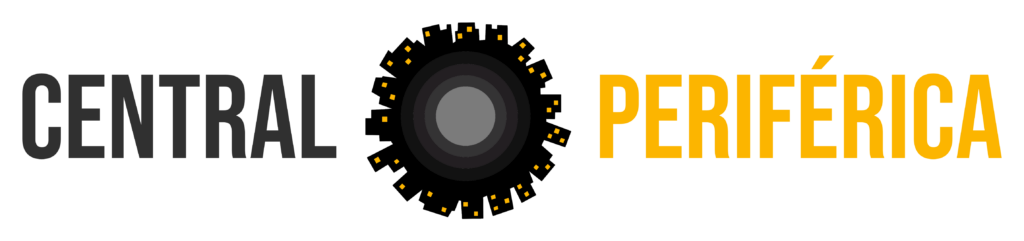Arte indígena: artesanato como existência e resistência na periferia de São Paulo
Lucineide e Caynã Pankararu, mãe e filhe, relatam os desafios de serem indígenas em contexto urbano e a relevância do artesanato em suas vidas.
Por Jean Silva
“A minha vó, ela não dizia ‘faz assim, faz assado’ que nem hoje eu falo. A gente via e aprendia. Aprendi brincando, fazendo panelinha de barro. Quando era pequenininha, eu fazia muita panelinha de barro”. Nascida em Paulo Afonso, município no norte da Bahia, a artesã e mulher indígena da etnia Pankararu, do aldeamento próximo à cidade, Lucineide Pankararu, 41, relata sobre sua infância.
Filha de Luiz e Loneide, pai indígena e mãe branca, sua história de vida já começa com complicações no relacionamento deles. Naquela época, nos anos 80, havia muita perseguição aos indígenas, realidade que perdura, mas isso provocou uma barreira entre o aldeamento de seu pai e sua mãe.
![Artesanatos produzidos por Lucineide e sua irmã, Lucicarla, usando materiais naturais e sustentáveis [Imagem/Acervo da família]](https://centralperiferica.eca.usp.br/wp-content/uploads/2025/02/Capa-materia-12-1024x576.png)
“Nunca paramos de ter de fugir do contato com a guerra, desse contato com a violência”, conta Caynã Pankararu, 25.
“Minha avó morava em Alagoas e foi para Paulo Afonso em busca de trabalho. Ela conseguiu muitos terrenos ali e meu avô foi trabalhar para o pai dela. Quando a minha avó perdeu a primeira criança dela, as pessoas da aldeia não viram como um castigo pago, mas como uma forma de acolher uma pessoa ferida”, explica.
Os problemas, então, se tornaram outros. A parte da família da mãe não gostava desse contato com a aldeia, então ela ficava em Paulo Afonso, o que ocasionou brigas até a ruptura em que foi por um tempo morar na aldeia. “Quando estava lá, a gente via, fazia, brincava e eu não sentia a necessidade de fazer”, fala, Lucineide, sobre o artesanato nesse período.
“No ano passado ou retrasado, nossa família voltou a trazer para cá a cultura. Já tinha, mas eram poucas pessoas que faziam. No começo, fomos nos arriscando, fazendo e foi natural. É impressionante, parece que a gente já nasce com isso”, continua.
Sua comunidade em São Paulo
A artista migrou para São Paulo com 11 anos de idade. Primeiro, veio seu pai atrás de emprego, depois sua mãe com todos os filhos. São 8 irmãos. Apesar disso, a presença Pankararu em São Paulo data desde, aproximadamente, 1939, além de que a presença da etnia no Sudeste é comprovada com registros arqueológicos de Minas Gerais.
Quanto a presença em São Paulo, Caynã, que nasceu aqui, explica: “O Serviço de Proteção ao Índio (SPI), que antecedeu a Funai, destinava homens indígenas para trabalhar na construção civil e mulheres indígenas para trabalhar como empregadas domésticas, tanto nas capitais quanto no interior. Isso sem falar na área de trabalho rural”.
Havia uma rede de comunicação entre os indígenas que vinham e os que ficavam nas aldeias. Essa permitia que os aldeados soubessem mais sobre o mercado de trabalho e a cidade grande
“Encontramos esse lugar no distrito do Morumbi por conta da presença de outros indígenas que viam nele um espaço verde para morar. Antes, a nossa comunidade era conhecida pelos moradores como favela da mandioca, devido ao plantio de mandioca e a forma de alimentação das pessoas que vinham do Nordeste”, contextualiza sobre sua família e outros povos indígenas que também ocuparam a região.
![Os região que era conhecida como favela da mandioca ocupava uma vasta área no Distrito do Morumbi, região nobre de São Paulo, hoje localiza-se no real parque e Jardim Panorama [Reprodução: Google Maps]](https://centralperiferica.eca.usp.br/wp-content/uploads/2025/02/unnamed-2.png)
“Se você pesquisar, teve vários projetos do Projeto Cingapura em comunidades e favelas de São Paulo, que construíram prédios marrons iguais, super bonitinhos. Aqui na nossa, é do lado da marginal em frente a um centro empresarial de alto investimento”.
“Ou seja, eles fizeram uma fileira imensa de prédios só para esconder a gente”, conta jovem.
Uma coisa que deixou elu muito enraivecide foi que o Centro de Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU), já trabalhou com indígenas Guarani no litoral de São Paulo. “La construiu-se uma relação com a natureza em movimentação com o povo indígena extremamente melhor”, afirma
Conforme elu, Ricardo Salles, ex-ministro do meio ambiente, era morador da região próxima e foi um dos opositores a construção de moradias populares. “Aqui sempre procuramos manter contato com o governo, mas desde que chegamos aqui, o governo não queria nos reconhecer como pessoas indígenas”.
Além disso, incêndios já atingiram algumas vezes a comunidade. Teve incêndios na década de 90, mas o de 2010 foi o mais rigoroso e consumiu grande parte dela. “Muitos moradores acreditavam que era criminoso, devido à precarização no atendimento pós-incêndio e durante as emergências”.
“Houve outros incêndios iniciados por rivalidades entre moradores de edifícios de luxo e da comunidade periférica no distrito do Morumbi”, denuncia o racismo ambiental enfrentado.
A tragédia levou boa parte dos itens culturais, como fumos, ervas, o que os paralisou por um tempo. Alguns parentes receberam indenização do governo e escolheram voltar para a aldeia no Nordeste, em Paulo Afonso, Floresta, Caruaru, entre outras cidades de Pernambuco e Bahia. Foram os primeiros a deixar a comunidade em São Paulo. Outros foram embora devido um assassinato de uma Pankararu em seguida.
“Perdemos todas as nossas economias, vestido de minha bisavó que meu avô guardava, fotografias e documentos importantes”, lamenta.
A relevância dos adornos
Em 2020, Lucineide perdeu sua filha de apenas 14 anos. Essa perda fez a mãe fortalecer a busca dela em se debruçar na arte e instigar em outras crianças essa busca do artesanato e da cultura. “Eu tenho muitos sobrinhos. Então, é aquela questão de mostrar pra eles que têm um pertencimento. Eles têm uma história”.
Caynã fala sobre quando e como encontrou o artesanato: “Eu sempre via as pessoas com os grafismos do povo, colares, pulseiras e materiais da terra nos encontros. Eu via os mais velhos usando sementes na pele, nas roupas étnicas e nas roupas sociais, do dia a dia. Havia uma forte relação com ossos e dentes. Por exemplo, um parente mostrava um dente e dizia que era de uma onça que entrou na aldeia e teve que ser morta, porque estava com uma criança na boca”.
Exemplifica também sobre mostrar a pele de um jacaré e falar da sua relação com aquele animal, que pode ser de violência, adoração ou encantamento e diz que sua família tem uma conexão muito forte com as borboletas.
“Muitas pessoas jovens, que nasceram agora, não conhecem a fundo as tradições. Mesmo assim, quando veem pessoas com adornos, com indumentários que não se encontram no Guarani, não se encontram no Xavantes, conseguem se identificar e encontrar um norte”.
![Crianças Pankararus em contexto urbano utilizam adornos, pintam-se de barro e aprendem com os mais velhos a cultura de seu povo [Imagem: Acervo da família]](https://centralperiferica.eca.usp.br/wp-content/uploads/2025/02/unnamed-3.png)
“Eles reconhecem uma direção, uma origem e até um parentesco em comum”, complementa.
Lucineide faz uma comparação quanto a sua filha e sua sobrinha e, apesar de ter mantido os costumes com ela, mesmo que não tão fortes quanto atualmente, ela vê uma postura mais colocada de sua sobrinha. “Ela hoje tem o direito de falar e ela fala, ela se defende”.
“Se falam alguma coisa, ela sabe se defender. Já aconteceu caso da professora não saber abordar o assunto indígena com ela e a professora se retratou e pediu desculpa pela postura que teve. Ela foi firme”, aponta orgulhosamente.
Além da identidade e encantamento, o artesanato como comunicador e recurso
Há um ano, a mais velha descobriu que está com câncer de mama. Ela que também é técnica em Segurança do Trabalho, está afastada de suas atividades e a venda de arte é uma quantia significativa. “Eu trabalhava em dois empregos, mas como só um tinha carteira assinada, fiquei com metade do que ganhava”, detalha a artesã.
Ainda assim, a venda é sempre numa lógica de troca de saberes que veem como uma ciência. Cita e filhe, um coco, que é um estilo de música indígena nordestina, no qual perguntam ao indígena onde ele está, e ele responde que está no mundo novo, atrás da nova ciência. Há outras variações que remetem a essa ciência não ser nova, ser uma ciência do próprio povo e que o indígena está procurando por ela.
“A ideia do artesanato é uma resposta para podermos conversar”, enfatiza elu.
Eles têm a noção de que as famílias precisam conversar com os jovens, com os mais novos, e que os mais novos, criados na cidade, têm costumes diferentes: uns gostam de jogar bola, outros de bicicleta, mas ambos gostam de estar em família ouvindo as histórias. Muitas famílias queriam entender uma forma de prolongar mais esse caminhar de ouvir e conversar, tanto o mais novo quanto o mais velho falar.
”Identificamos que, ao falar sobre a cultura, ensinar nossa relação com a cultura, conseguimos muito mais tempo de conversa. Por a cultura remeter também à família, eles já terão essas ciências de quem é a família, o que a família come, de onde a família veio, e assim por diante”, afirma e mais nove.
Elu comenta também que quando se encontram nos encontros indígenas para fazer as vendas, colocam preços simbólicos em grande parte do material. “Tem parentes que vendem um pouco mais caro para não-indígenas em outros ambientes, mas é uma relação desse contexto de lugares que pessoas pagam mais de cinco mil numa Louis Vuitton”, reflete.
Apesar de alguns anciões não gostarem de vender para não-indígenas por toda questão de representar cura e proteção, existem muitos que comercializam. Os artesanatos da família são vendidos em eventos periféricos, na faculdade de Caynã e encontros indígenas.
Entre os itens existem brincos, colares, entre outros adornos. A mãe diz que começou a confecção de panos de pratos, bolsinhas feitas de retalho e folhagens atualmente, para além dos adornos indígenas.
“Acho legal porque da minha mão eu consigo produzir algo que possa me trazer meu sustento”, fala a mãe.
Os materiais e o conhecimento ancestral
Boa parte dos materiais utilizados vêm da aldeia. Ramas da aldeia trazem Algumas sementes mais comuns como a de açaí são encontradas facilmente na cidade de São Paulo. Outras são próprias daquela terra. Parentes que costumam fazer o trajeto os trazem.
“É bom que também vemos os parentes e sentimos o cheiro de lá. Tranca num saquinho (os materiais) e o cheiro fica junto. Dá uma nostalgia”, recorda a artesã. “Outro dia pedi para trazerem uma gaita de lá. O som da gaita faz a gente voltar. O som da gaita é um chamado lá na aldeia. Quando começam a se juntar pra dançar toré, fazer nossos rituais, tocam uma gaita”.
![Outro item, o cachimbo Pankararu é utilizada para ritualísticas em aldeamentos e contexto urbano [Imagem: Acervo da Família]](https://centralperiferica.eca.usp.br/wp-content/uploads/2025/02/unnamed-4-576x1024.jpg)
Duas famílias foram essenciais para trazer os materiais a comunidade, a de Bino e Ivone. “Existem praiás que cultuamos com mais de dois metros. Eles traziam praiás de tamanhos que podiam ser colocados em altares dentro dos barracos de madeira na favela. Eles traziam fumos importantes e ervas que praticamos e usamos na aldeia para curas”, ressalta e filhe.
A transmissão do conhecimento indígena, como a arte, o grafismo e a língua Pankararu, sempre foi uma responsabilidade compartilhada dentro das aldeias, da família.
Ao migrar para um contexto urbano, essa dinâmica se torna mais complexa, pois a falta de acesso a materiais e a distância da aldeia dificultam a continuidade de práticas tradicionais. “Quando uma família migra da aldeia para uma cidade, por mais que esteja cercada por quinhentas, trezentas pessoas, não serão as oito mil pessoas da aldeia em Pernambuco”.
“Existem conhecimentos da comunidade que (indígenas em contexto urbano) nunca terão acesso se continuarem morando aqui”, declara Caynã.
Em São Paulo, por exemplo, a escassez de barro adequado impede a produção de cerâmica, mesmo que o conhecimento esteja presente. No entanto, a relação familiar permanece crucial. Cada membro contribui com suas habilidades e interesses, desde o lado religioso até o artesanato, e juntos, mantêm viva a herança cultural.
A essencialidade da ida ao aldeamento
Todos da família arrecadam dinheiro para poder ir juntos a aldeia, porque a viagem é sempre feita em grupo, devido ao histórico de indígenas desaparecidos por conta das mudanças de rodovias, ruas e avenidas, como apresenta o documentário “Pankararu de Brejo dos Padres” (1977, dirigido por Vladimir Carvalho).
Ainda assim, o aldeamento é o território sagrado, então é extremamente importante para os povos indígenas a ida, especialmente para essa família. Desde a morte do primogênito de Luiz, ele e sua família contam que a família tem uma maldição quanto o primeiro filho e ele tem de ser batizado na aldeia após o nascimento.
O problema é que após os incêndios, as economias que juntaram para levar Caynã para a aldeia realizar o ritual foram perdidas. Apesar disso, ele o realizou mais tarde. “Esse ritual que fiz aos 22 anos foi importante para mim. O ritual se chama ‘Menino do Rancho’”.
![Ritual dura dias dentro da aldeia e é acompanhado de vestimentas específicas [Imagem: Acervo da Família]](https://centralperiferica.eca.usp.br/wp-content/uploads/2025/02/unnamed-5-1-1024x694.jpg)
Além do encontro anual, há uma pequena parte da ritualística que ocorre nas casas, quando os parentes são chamados. No entanto, essa é apenas uma fração da ritualística completa, que acontece na aldeia. Por essa razão, é necessário realizar a migração de volta para a aldeia.
O controle de seus futuros
Mesmo com essa dificuldade em ir até o aldeamento e ter acesso aos materiais e sua própria cultura, e jovem indica outras possibilidades de criar arte indígena na cidade. “Existem muitas formas de criar arte e se nomear Pankararu, por mais que seja criado com materiais diferentes e contemporâneos”.
“Construímos um desenho hoje em dia com lápis grafite em um papel sulfite, e nada disso é Pankararu, mas se o desenho remete à nossa pintura, isso já dá a ideia de uma identificação”, aponta.
Há, para além disso, muitos outros desafios em relação a ser indígena em contexto urbano. De acordo com elu, a falta do reconhecimento da população indígena devido a miscigenação é grande e a necessidade de políticas públicas continuam, mas o cenário vem mudando.
“Temos apoio nas secretarias de cultura e nas reivindicações por políticos indígenas eleitos, como a Chirley Pankará. Graças a ela, conseguimos uma verba parlamentar para a ampliação da nossa UBS”, explica.
O caminho por direitos ainda é longo, mas é necessário para tomar controle da própria narrativa. Para essa jornada, Caynã ingressou na graduação em história na PUC-SP pelo Programa Pindorama. “Foi o primeiro do clã a entrar na faculdade, dá muito orgulho pra gente”, diz Lucineide.