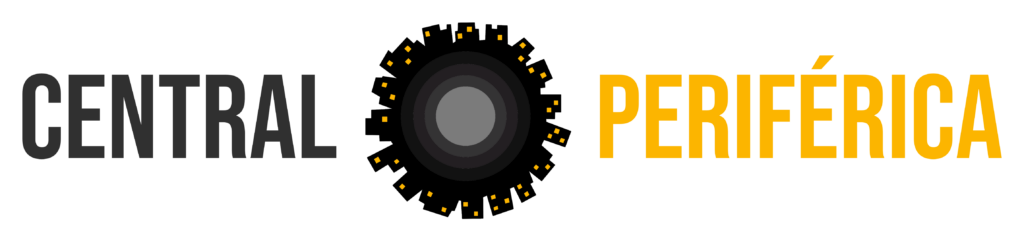A obrigatoriedade da inclusão: como é o ensino da história africana e indígena nas escolas
Apesar das leis 10.639 e 11.645 apresentarem conquistas aos movimentos sociais, ainda muito deve ser feito para que seus resultados sejam mais efetivos
Por Aline Noronha, Lucca Bessa e Thaís Santana Costa
![[Imagem: Reprodução/Pixabay]](https://centralperiferica.eca.usp.br/wp-content/uploads/2024/10/capa-obrigatoriedade-do-ensino-1024x682.jpg)
Era janeiro de 2003 quando a lei 10.639 foi aprovada. O país vivia um raro clima de expectativa. Não era para menos: depois de longos anos de instabilidade democrática, — 21 dos quais vividos sob a mais longa ditadura de nossa história — um presidente eleito passaria a faixa para seu sucessor, igualmente eleito. Da última vez que isto havia acontecido, em 1960, o presidente Juscelino Kubitschek foi quem passou a faixa para seu sucessor: Jânio Quadros. Jânio teria sido o primeiro presidente a exercer todo seu mandato em Brasília, caso não tivesse renunciado no ano seguinte.
Brasília era um projeto de Juscelino para representar seu ideal de um Brasil moderno e progressista. No plano, encomendado por ele a Lucio Costa e Oscar Niemeyer, foram previstas grandes avenidas, palácios de traço moderno, conjuntos habitacionais sobre pilotis, praças de um paisagismo delicioso… entre outros bibelôs. Tudo, para acomodar a mais alta classe política do país. JK sabia o que lhes faria gosto até porque, ele mesmo, era representante do primeiríssimo andar da política de mineira; Costa e Niemeyer, também, já trabalhavam por aquele Brasil, no mínimo, desde quando projetaram a primeira sede do Ministério da Educação, no Rio. Agora, aos operários, majoritariamente negros e descendentes de indígenas vindos das regiões norte e nordeste para de fato erguerem a nova capital, restou no plano uma pequena estátua na praça dos três poderes como agrado. Quando foram ver onde morariam, descobriram que foram empurrados às chamadas cidades satélites. Brasília, como disse, era uma representação de um ideal de Brasil.
A transição de 2003, por sua vez, foi carregada de outros simbolismos. Fernando Henrique Cardoso entregaria a faixa presidencial a um operário: Luís Inácio Lula da Silva, que receberia um país, também em si, diferente. De todas as mudanças, as principais estavam previstas em uma constituição, a de 1988, que teve como pretexto, desde sua elaboração, observar uma penca de direitos anteriormente esquecidos — ou negados. A esses direitos, FHC, em seu primeiro mandato, já havia adicionado um incremento: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (lei 9.394/1996) lançou as fundações sobre as quais o Estado brasileiro deveria construir um ensino público que verdadeiramente atendesse à maioria da população. Logo após assumir, Lula daria a ela um incremento.
A lei 10.639, promulgada em 9 de Janeiro de 2003, incluiu à LDB um artigo segundo o qual “nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira”. Era um incremento não só à legislação, mas ao projeto de Brasil imaginado em 1988: aquele pensado para trazer ao centro do Estado aqueles historicamente legados às margens do país.
Sabemos como acabou o Brasil moderno preconizado por Brasília: o primeiro presidente a exercer todo seu mandato despachando do Palácio do Planalto foi Castelo Branco, primeiro dos presidentes militares. Hoje, 20 anos depois de sua aprovação, a lei 10.639 parece, como a nova capital, representar, antes de tudo, o vestígio de um sonho não realizado.
Anos depois, em 2008, a lei 11.645 buscava ampliar a visão social das escolas, agora também se tornou obrigatória o ensino da história e cultura indígena.
As leis que “não pegaram”
A obrigatoriedade do ensino da história africana e índigena no cronograma escolar é mais um exemplo de normas que não são seguidas no Brasil. Roberto Otaviano, produtor audiovisual e professor da escola estadual Amélia Kerr, zona sul de São Paulo, relata: “Eu conversava sempre com os amigos de história sobre essa diretriz e fico muito triste que tem que ter uma lei para que a gente possa discutir sobre os nossos povos originários e nem sempre as escolas a cumpre. Fica uma coisa muito superficial é como quando chega o dia 20 de novembro, a escola só faz uma homenagem, um evento rápido, sobre o dia da consciência negra”.
Essa foi a realidade de Maria Júlia Venâncio, conhecida como Maju, mestranda em Sociologia na USP: “Eu nasci em 1996, boa parte da minha trajetória escolar coincide com o que é a aplicação dessa lei, a partir de 2003. Eu estudei tanto em escolas públicas quanto em escolas particulares e nenhuma dessas escolas, em diferentes contextos e cidades, tive algo para além dos marcos do Dia da Consciência Negra e da Semana da Consciência Negra. Esse é um reflexo, também, do que o movimento negro apontou, que houve muitas falhas na fiscalização e no acompanhamento da implementação da lei”.
“Confesso que a minha trajetória escolar básica, da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, o ensino da história da cultura afro-brasileira é uma lacuna que tenho”
Maria Júlia
![Antes das leis 10.639 e 11.645 o ensino da história africana e indígena era superficial e hoje após sua institucionalização os três entrevistados concordam que continua da mesma forma [Imagem: Reprodução/Pixabay]](https://centralperiferica.eca.usp.br/wp-content/uploads/2024/10/foto1-obrigatoriedade-do-ensino-1024x731.jpg)
Roberto, que teve sua vivência escolar antes destas normas, expõe: “A gente tinha alguma coisa em relação à questão do ‘dia do índio’ que era justamente antes como falava no 19 de abril”. Ele ainda diz que foi entre sua adolescência e vida adulta que obteve um maior pensamento crítico sobre o dito “descobrimento do Brasil”.
Após décadas da implementação de leis específicas a essas causas, a falta de compreensão e acesso ao conhecimento sobre esses povos ainda persiste. Em uma das aulas o professor Roberto conta que provocou os alunos ao indagar porque popularmente é mais comum usar o termo índio do que indígenas ou povos originários e se a turma sabia que quando os portugueses chegaram ao Brasil pensavam que estavam na Índia, a resposta para essas perguntas foi um não.
“Eu acredito que hoje boa parte dos municípios e dos estados brasileiros não consiga necessariamente aplicar a lei de forma transversal, de forma completa, de fato, durante esses 21 anos de duração”, afirma Maju sobre a obrigatoriedade do ensino da história africana nas escolas.
Já sobre a lei 11.645, a estudante índigena de letras da USP, Paula Guajajara, afirma que na sua época de escola, a recuperação da memória dos povos originários era de forma inadequada. “Boa parte do preconceito que sofri foi durante as aulas de História, quando era abordado o processo de colonização de forma superficial. Então basicamente o que os alunos reproduziam era ‘Ah e os indígenas fizeram uma troca com os colonizadores com um material que é besteira como um espelho’. A parte da resistência não foi tratada de modo algum, é tanto que em um momento passei a me questionar ‘Caramba, será que sou uma pessoa indígena mesmo?’ Isso foi com base em tudo que fui aprendendo dentro de sala de aula, porque minha mãe nunca me incentivou a pensar em mim de uma uma outra identidade a não ser de pessoa indígena”, revela.
Tentativas de fazer a diferença
Apesar do descaso por essas leis, iniciativas que buscam despertar o interesse dos alunos ao ensino da história desses povos existem e resistem. Esse é o caso do: “Projeto Educação em direitos humanos para a locomoção da equidade e prevenção às violências nas escolas”, conhecido como PODHE, coordenado por Vitor Blotta, professor da USP, e Caren Ruotti, doutora pelo Programa de Pós-Graduação do Departamento de Sociologia da USP. Ambos são pesquisadores do Núcleo de Estudos da Violência da universidade.
A iniciativa busca, entre outros objetivos, melhorar o ambiente escolar por meio do respeito e valorização das diversidades no combate à desigualdade. Para isso, os professores do PODHE contam com atividades transversais e interdisciplinares de educação pautadas no monitoramento, vivência e sensibilização dos direitos humanos.
Dentre as propostas dos professores bolsistas está o “Resgate da História indígena local: vozes ‘esquecidas’ e direitos humanos” em que Roberto participa ativamente. “Eu quero ‘o pouco’, a gente vai entregando e vai se aproximando, o projeto tem muitos detalhes.”, afirma ele.
![Estudantes da escola EE Amélia Kerr e EE Ubaldo Costa Leite em atividade de extensão com integrantes do PODHE em 2023 [Imagem: Reprodução/Instagram/@nevusp]](https://centralperiferica.eca.usp.br/wp-content/uploads/2024/10/foto2-obrigatoriedade-ensino-1024x683.jpg)
“Além de sermos números, nós somos humanos”
Roberto Otaviano
O foco do programa é além de que os alunos conheçam mais da história indígena em torno da escola Amélia Kerr, saiam do ambiente acadêmico para entrevistar a comunidade e as aldeias indígenas locais e com essas informações produzam um documentário.
A reação dos alunos ao projeto não foi a esperada, o que é esperado e compreensível na medida que o ensino dos povos originários não teve a atenção necessária durante décadas. “Eu acredito que ainda não caiu a ficha e eles não têm até o momento, talvez, um amadurecimento para se apropriarem de onde moram”, expõe Roberto.
Apesar disso, para ele, em um futuro próximo, conforme esse aprendizado for internalizado, a sociedade será um lugar mais respeitoso e acolhedor para a causa indígena. “Eu sempre falo até mesmo em sala de aula: ‘Tem coisas que vocês não vão entender agora, mas vão entender daqui a algum tempo’ e é por isso que estou aqui na educação, porque acredito muito nesse tempo”, diz Roberto.
Já Paula Guajajara, que trabalha no Museu das Culturas Indígena, busca também corrigir parte dessa falta de ensino que alimenta muitas expressões discriminatórias. “O trabalho que a gente desenvolve é basicamente uma ação de linha de frente com todos os públicos, entre eles, as crianças. Nós tentamos desconstruir preconceitos básicos, por exemplo, o uso de termos pejorativos como ‘índio’ ou ‘tribo’. Buscamos trazer essa noção de que nós somos povos que têm diferentes costumes, línguas e modos de vida. Cada povo tem o seu próprio modo de vida e nós também temos uma cultura só que é uma diferenciada, que foi subjugada e mal compreendida”, relata.
![Paula Guajajara (de frente com calça branca) na mediação e acolhimento do Museu das Culturas Indígenas na Barra Funda, São Paulo [Imagem: Reprodução/Instagram/@paulaberbert]](https://centralperiferica.eca.usp.br/wp-content/uploads/2024/10/foto3-obrigatoriedade-ensino-804x1024.jpg)
A lei deve se adequar ao poder de transformação social da educação
A existência de uma lei sancionada a qual garante a obrigatoriedade de estudar os povos que formaram nosso país é uma conquista do ponto de vista jurídico que merece reconhecimento. Essa proposta representou o início de uma educação menos colonialista e mais antirracista, e durante os 21 anos desde a sua implementação houve iniciativas governamentais que ampliassem essa ideia, todas oriundas de novas discussões que surgiram. Como exemplo, é possível mencionar as políticas de ações afirmativas para o ingresso em instituições federais de ensino superior e técnico, implantadas oficialmente no ano de 2012. Esses acontecimentos indicam frutos da luta dos grupos raciais discriminados de se colocarem nos espaços educacionais tanto como produtor quanto como referência de conhecimento.
Segundo a pesquisadora Maju Venâncio, a lei foi um passo para pensar uma educação antirracista mais ampla, mas que precisa passar por novos diálogos os quais trabalhem os contextos dos estudantes. Ela traz a reflexão sobre as comunidades negras que frequentam e moram ao redor de territórios escolares, e mesmo sendo maioria, não estão incluídas na complexidade da dinâmica educacional. Quanto a esse ponto, o professor Roberto também reforça a necessidade de um trabalho humanizado nas instituições voltada para o crescimento pessoal dos alunos, algo que vá além de garantir uma educação de alta qualidade comprovada por números. “A preocupação é mais manter o seu emprego do que mesmo um resultado que venha a trazer transformações futuras e que nós possamos ter orgulho de participar dessa construção”, critica o professor.
Além disso, Maria Julia também pontua a importância do ensino de combate ao racismo nas escolas para que a juventude negra e indígena possa ser protegida da discriminação e motivada a disputar um futuro justo. “Para a gente conseguir instituir uma educação verdadeiramente antirracista, com mais contexto de reforço do racismo e da sua reprodução, é preciso uma representação boa e positiva de crianças, adolescentes e jovens. Eu acho que isso tem um impacto bastante coletivo para conseguir o interesse e a vontade política dessas pessoas”.
![Maria Julia em congresso na Colômbia sobre o reconhecimento da memória negra no campo crítico dos direitos humanos [Imagem: Reprodução/Instagram/@majuvenancio]](https://centralperiferica.eca.usp.br/wp-content/uploads/2024/10/foto4-obrigatoriedade-ensino-768x1024.jpg)
De acordo com a cientista, a representatividade provocada pelo estudo da memória é uma arma rica contra o racismo e que empodera a história dos povos oprimidos, tudo com o objetivo de inspirar os seus integrantes mais jovens. “Essa memória que a gente busca resgatar tem como proposta colocar a população negra sob outras lentes, sob uma outra ótica contrária àquela que muitas vezes é reproduzida nestes espaços escolares” explica Maju.
Como foi observado nos relatos, mesmo com experiências negativas , a escola impulsiona o estudo pelas histórias plurais, porém é preciso que haja políticas que articulem melhor uma educação diversificada. Logo, as instituições escolares precisam de medidas específicas de resgate histórico tanto quanto os museus, arquivos e bibliotecas de salvaguarda da memória, para que estudantes e professores tornem-se acostumados com essas narrativas.
Para o educador Roberto, inovações sociais dentro da escola marcam de modo permanente aqueles que se envolvem, e enfatiza: “Eu acredito que isso naturalmente vai contabilizando vai acrescentando algo na vida deles, que eles vão estar percebendo que são outras pessoas no processo ou depois do processo. O mais importante é a transformação.”
Na perspectiva de Maju, os professores podem encontrar formas criativas de trabalhar as diretrizes pedidas pela lei. “Para além do dia, da semana, do mês da consciência negra, entender que essa história pode ser trabalhada de forma transversal ao longo de todo o ano, inclusive de todas as iniciativas que a escola se propõe a construir.” A visão de Roberto não somente condiz com a afirmação da pesquisadora, como também trata-se de uma das suas formas preferidas de ensino.
“Eu me identifico muito mais com um projeto do que entrar em aula para falar de Aristóteles, de Sócrates”, diz o professor. “Não tirando os méritos de cada um dos filósofos não, eu falo para eles (os alunos), eu digo: ‘Olha quando eu entro em sala, para mim é muito mais interessante, muito mais importante, eu me aproximar de vocês e da minha experiência de vida, dar uma contribuição do que eu chegar na lousa e escrever lá sobre o mito da caverna, né? Que depois vocês vão esquecer ou não.’ Então, isso para mim tem muito mais impacto.”